|


 O
contraluz que demarca a lógica do filme: escuridão no
primeiro plano transforma personagens em silhuetas... O
contraluz que demarca a lógica do filme: escuridão no
primeiro plano transforma personagens em silhuetas...
Sangue Negro
começa com um acidente. Na escavação na qual procura
metais preciosos, Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis)
cai e quebra a perna (depois de uma explosão já ela
um pouco desastrada). Mancará pelo resto da história
por conta disso. Na seqüência subseqüente, poucos anos
depois, acompanhamos Plainview em uma prospecção de
petróleo – provavelmente sua primeira bem sucedida,
dado o ar triunfal e quase ritualístico com que é saudada.
Entretanto, o que marcará a seqüência será... um acidente.
Outro. Com Plainview. E essa ocorrência resultará no
plano-ícone do filme: o rosto de Day-Lewis, coberto
ao mesmo tempo de petróleo e de sangue.
Voltarei a esse plano. Por agora, acidentes. Essa série
de pequenos desastres será essencial para a construção
de relações em There Will Be Blood. Ora, o que se verá depois será uma disputa entre
o discurso de transcendência promovido por Eli Sunday
(Paul Dano) e a pura imanência defendida por Plainview.
Por mais que seja na verdade uma disputa de poder (considerando
inclusive a ambigüidade de Eli), ela será construída
por uma oposição entre esses dois mundos, o da religião
do jovem e o da fé do empreendedor (sim, por mais niilista
que seja, ele tem uma fé: em si e em sua capacidade
de domar o mundo). O filme de Paul Thomas Anderson toma
partido: o argumento do pastor é que a recusa do empresário
em permitir a bênção do poço causou uma série de desgraças.
Mas Plainview tem no corpo as marcas do negócio: prospectar
petróleo é uma atividade cercada pelo acidente, pela
violência da terra contra o homem, em resposta à clara
violência do homem contra as entranhas do chão. Ao longo
de toda a projeção, então, não haverá chance possível
para a visão de mundo de Eli.
Este é, afinal, um conto sobre “a ética protestante
e o espírito do capitalismo”. O embate aqui é justamente
em torno desse “espírito” (Weber usou aspas para demarcá-lo
e seguirei: de fato, é um ethos, uma maneira de se aproximar do mundo e dos outros e, antes
de tudo, uma visão de bem uma gramática das ações).
O empreendedor e o religioso disputam quem é mais asceta,
quem é verdadeiramente asceta, quem tem mais “espírito”
e, no final das contas, quem é mais predestinado. Sim,
Plainview acredita na predestinação, mas não em uma
da ordem do divino. Em vez disso, ele crê em uma predestinação
de sangue que o iguale ao mundo, em uma predestinação
de talentos para a conquista.
O que conduz de volta ao plano do rosto de Day-Lewis:
a imagem é icônica porque dá conta do símbolo essencial
da obra, o sangue. Mais que isso, a metáfora opera em
um jogo entre o sangue dos homens e um “sangue da terra”,
o petróleo. A parca iluminação nesse plano, aliás, permitirá
reparar apenas esse detalhe, justamente este, o fato
de que o rosto de Plainview traz o negro e o vermelho
a escorrer. Esse tipo de imagem habitualmente está a
serviço de certa humanização do espaço: sangue e petróleo
seriam especulares por um “efeito Gaya” estético: a
Terra tem sangue, é um ser vivo, pulsa de vontades e
caprichos. Mas aqui, não. Na saga do personagem, petróleo
e sangue correm em veias de seres secos, áridos, sem
vida. Não é a Terra que é humana como os homens; os
homens é que são desumanos como a Terra. Pelo menos
nas ações de Plainview, Pelo menos aos olhos de Plainview.
Aos olhos, símbolo máximo. Não parece ser nada sem motivo
que o personagem tenha o nome que tem. Ainda mais diante
do jogo imagético que constitui o filme. A “visão clara”
impressa na identidade do personagem se digladia com
a lógica imagética de toda a obra. Ora, a fotografia
de Sangue Negro é centrada em uma operação
simples de iluminação: ao longo de toda a narrativa,
veremos uma fotometragem baseada na contraluz, a produzir
um efeito de exposição correta nos fundos e subexposição
nos primeiros planos. O resultado é que as pessoas se
transformam habitualmente em silhuetas, diante de um
ambiente – geralmente um céu – que se pode facilmente
divisar, que se dá ao olhar. Aos seres humanos (estes
que estão em primeiro plano), a luz chega apenas no
limite do reconhecimento. Conseguimos ver que é Daniel
Plainview ali a falar, mas ele estará (quase) sempre
imerso na escuridão. Desde a primeira imagem, em que
“vemos” o protagonista em um buraco, não o acessamos
muito claramente. Dele, enxergamos as centelhas produzidas
pelas pancadas de sua picareta contra as pedras. E,
dali por diante, manteremos os olhos a perseguir (com
grande desvantagem) os traços dos seres viventes.
Operação simples, disse. Mas não sem complexidade. Simples
porque tecnicamente muito simples de realizar, mas os
efeitos produzidos por essa opção estética não serão
nada simplificadores. Pelo contrário. Toda complexidade
dos personagens e da narração será estabelecida por
esse jogo. O trabalho de Robert Elswit para Paul Thomas
Anderson se preocupa com expressar a profunda contradição
essencial do personagem-guia de Sangue
Negro.
Não à toa, então, há um centramento das operações dessa
filmagem na figura de um ser vivente em particular,
justamente Daniel. Daí o trabalho de Daniel Day-Lewis
ser tão marcante e absoluto. O impulso do filme é o
da criação de um quase-demônio, de um Mefistófeles do
capitalismo, possuído que está pelo “espírito”, dotado
de um ascetismo profundo em relação a sua própria vida,
movimento que o torne o homem capaz de se elevar ao
lucro (e se afastar com isso dos outros homens). Daí
a clara opção por uma espetacularização das ações, uma
superapresentação de técnicas de interpretação. Plainview
(e em conseqüência disso Day-Lewis) nunca será discreto.
Suas cenas (quase todas as do filme) são... aparições.
Por conta disso, haverá um ou outro momento em que o
roteiro chegará até ao over
ou se entregará a uma tipificação um tanto padronizada
– em alguns momentos, por exemplo, até notaremos uma
forte semelhança entre falas de Plainview e as de Bill
The Butcher, incorporado justamente pelo mesmo ator
para Martin Scorsese em Gangues de Nova York (2002). Mas essas
imperfeições são parte de uma mecânica de risco claramente
assumida pelo tom da direção de elenco. Um único aparente
senão se coloca na fragilidade da corporificação de
Eli. Paul Dano é claramente menos ator (no sentido de
conferir ao seu personagem realidade, credibilidade
e, no caso do filme isso é determinante, espetacularidade)
do que seria necessário (1). Mas isso não
deixa de ser coerente ao mesmo tempo com o projeto estético
ali plantado: Sangue
Negro é um filme embebido em covardia, pactuado
com desigualdades claramente definidas. Daniel Plainview
é mesmo “mais” que os outros.
Esse jogo com as utopias acaba por ficar impresso até
na música do filme. A trilha de Jonny Greenwood é construída
com uma musicalidade moderna (à Stravinsky) e a elas
se somam trechos de Arvo Part com o mesmo espírito.
Como contraponto, surge o concerto para violino e orquestra
em sol maior, opus 77, de Johannes Brahms, um tema cujo
romantismo conduz a um espírito totalmente diferente
dos de Greenwood/Part. Esses dois movimentos musicais
representarão utopias. A primeira ligada à terra, às
máquinas, ao progresso, ao petróleo, a segunda ligada
ao homem, ao poder, ao sucesso, ao sangue. Em vários
momentos do filme ouvimos pizzicatos de violinos dialogarem
com sons industriais e contrabaixos tensos (como na
cena do trem que chega ou na do poço que se consome
em chamas). Em alguns outros, ouviremos frases marcadas
por uníssonos de orquestra e metais triunfais (como
quando reencontrar o filho ou no “triunfo” final). Seja
qual for o movimento, a tensão estabelecida será sempre
entre o homem no que ele poderia ter de humano e o homem
no que ele se afasta do humano, a tensão entre carbono
orgânico e diamante.
Jogo com utopias que dá grande sentido ao título original.
There Will Be Blood nos diz, ao mesmo tempo, que há violência em jogo
(Esta história acabará em sangue), há que sangue pulsando
no chão (Haverá petróleo) e, supremo elemento, há uma
questão de família a resolver (Há laços de sangue envolvidos).
“Você nunca será salvo se rejeitar o sangue”, lança
Eli sobre Plainview na igreja “da Terceira Revelação”.
Essa cena, a da igreja, aliás, é determinante. É a cena
central do filme. Para falar dela, entretanto, é preciso
retornar ao jogo de luz e sombra de Anderson. É que
ele não é composto apenas por ocultamentos. Não. Ali,
no miolo da história, a fotografia criará justamente
o contrario, um bolsão de luminosidade, um respiro de
definição. Esse parêntese será definido justamente pela
única chance que Plainview dará a uma utopia constituída
no outro, por meio do outro: a chegada de “Henry” (não
saberemos seu nome real, nem se não será esse mesmo)
(Kevin J. O'Connor), seu suposto irmão. Desconfiado
a princípio, logo o empreendedor cederá espaço para
o familiar em sua vida. E chegará mesmo a proclamar:
“Sua chegada me dá um novo sopro de esperança” (de que
afinal não haja um mal inelutável em todo homem e que
a humanidade não seja insuportável). A entrada dele
em cena se dá em uma seqüência também operada por um
“efeito visual”: em um (surpreendente) quadro bem iluminado,
claro, vemos, ao fundo, alguém sentado diante porta
da cabana de Plainview, a foco médio. No primeiro plano,
as costas de uma cabeça, que se aproxima, seguida pela
câmera. Ouvimos as vozes de ambos, mas a seqüência parece
querer criar uma confusão. O homem ao longe tem bigodes
como os de Plainview e se veste um tanto como ele. Por
alguns segundos não saberemos quem é quem. Logo o efeito
se desmontará e veremos que o empresário interroga o
homem que estava a sua porta.
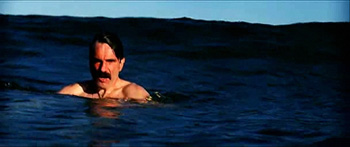 Plainview no mar, “corretamente” exposto”, plenamente
iluminado: um bloco do filme criará um bolsão de luz,
enquanto o empresário apostar no sangue como esperança
Plainview no mar, “corretamente” exposto”, plenamente
iluminado: um bloco do filme criará um bolsão de luz,
enquanto o empresário apostar no sangue como esperança
A partir dalí, e por algum tempo, sempre veremos o rosto
de Plainview. E de “Henry”. E o de H. W. (Dillon Freasier),
o menino que é ostensivamente tratado pelo pai (e por
todos) por um nome “de sócio”, de “homem de negócios”.
Ele aparecerá também em muitos momentos usando terno,
como que numa negação de sua dimensão infantil, como
que a lhe dar mais uma função do que uma existência.
Nesse bloco, assim, veremos pessoas e não mais silhuetas.
Vemos os empresários que negociam com o empreendedor
(que leva seu familiar consigo), veremos a vida a seguir.
Neste mesmo trecho, se dará a transformação de H. W.
Mais um acidente tornará o menino surdo e, conseqüentemente,
um fardo para o homem que o cria. A relação entre o
pai e o filho é um bocado complexa. Logo no começo do
filme, o menino será “crismado” por Plainview, com petróleo
na testa (e com uísque nos lábios). Depois, veremos
uma imagem de troca de carinho entre os dois, no trem.
E ouviremos os discursos do empresário a defender o
valor da família. A se dizer um “homem do petróleo”
tanto quanto um “homem da família”. A familiaridade
será um elemento central da saga ali descrita. Como,
aliás, é em geral uma questão no cinema de Anderson,
com Magnólia (1999) operando também um jogo entre acaso, tragédia e laços
de sangue. Mas se lá as relações de fato sangüíneas
não se convertiam em boas relações humanas, aqui as
relações nunca chegarão a ser reconhecidas como sangüíneas,
ou seja, como “grandes relações”.
Aqui, H. W. é um filho “de fachada”. Não apenas porque
tenha sido achado ou comprado. Mas porque, como disse,
ocupa uma função. Não à toa, será sempre acessório ao
projeto de empreendimento de Plainview. Não é para “cuidar
da família” que ele mergulha em busca do sangue da terra.
A família é que serve a esta operação. Pelo menos a
família que ele conhece, a modelar, a esquemática que
tem e que nasceu justamente para isso. Até por isso,
H. W. disputará espaço com “Henry” e, na disputa, perderá
seu lugar junto ao pai (que ama), justamente ao descobrir
a falsidade do parente. A punição não é outra senão
aquela que é a sina tradicional dos filhos não amados,
o “colégio interno”.
O jogo entre H.W. e “Henry” e a tomada deste segundo
do lugar junto a Daniel será justamente o que definirá
esse interregno de iluminação clara na filmagem. E será
justamente encerrado pela decepção de Plainview com
a descoberta da verdade sobre o falso irmão e, afinal,
sobre si mesmo e o mundo. A decepção será demarcada
justamente por dois planos marcantes em termos de iluminação.
O primeiro mostrará Daniel e “Henry”, ambos de perfil.
Os dois acabaram de nadar e o primeiro fala de uma casa
que invejava na infância, na cidade natal de ambos.
Daniel olha para o mar, “Henry” para baixo. E “Henry”
está... imerso na sombra, enquanto Daniel está iluminado.
Logo depois, Daniel se erguerá para nadar e o veremos
perfeitamente exposto, cercado pelas ondas, a lançar
um olhar de profundo ódio para fora do plano. Ele olha
para o irmão que ele acaba de descobrir não ser de fato
de seu sangue. Mas olha também para o mundo.
A saída do bloco “de luz” será gradativa. A segunda
etapa se dará logo depois que ele executar sua vingança,
momento em que se entregará profundamente à decepção,
debulhando-se em lágrimas – o demônio também chora!
Logo depois disso, veremos uma jogada de sentido no
plano imediatamente subseqüente. Acordado em um sobressalto,
o empreendedor será pego diante... de uma contraluz.
De novo estamos adentrando o mundo das trevas. Mas quem
está agora diante do sol será seu interlocutor. Vemos
no plano o bosque, perfeitamente iluminado, com o sol
que escapa por entre as árvores, e o ancião Mr. Bandy
(Hans Howes), este sim, subexposto. Plainview terá,
então, luz suficiente para si. Mas ele... coloca a mão
diante do rosto. A luz o cega.
Veremos uma última lufada de definição na iluminação
da cena do batismo de Plainview. Ali, uma janela em
forma de cruz inundará o ambiente com fótons, mas não
sem permitir que se enxergue o rosto do personagem.
E ali ele será confrontado com sua verdade. A dubiedade
de suas falas é fortíssima. Vemos o homem que acabou
de perder em definitivo as esperanças no mundo, que
acaba de matar o homem que ele cria ser seu irmão. É
um homem que optou em definitivo pela descrença no transcendente
(representado pela familiaridade de sangue) e que fará
troça de qualquer um que nesse transcendente creia (porque,
afinal, é um fraco quem nele crer). Mas eis que ali,
por uma fração de segundo, depois de várias vezes instigado
por Eli, em uma cena cômica de vingança do rapaz (que
lhe devolverá os tapas no rosto que recebera seqüências
antes), Plainview tomará a iniciativa própria. Ele dirá
com sinceridade (e sofrimento): “Eu abandonei meu garoto!”
Para, uma outra fração de segundo depois, ser redimido
em sua própria religião, o cinismo. Escarnecerá veementemente
de tudo a sua volta, então. Não há utopia nenhuma no
outro. Porque o outro nunca, nunca será ele, nunca será
como ele. A única utopia é o afastamento total do homem,
é o mergulho no eremitismo cínico. Daniel, então, ergue-se
e caminha na direção... da escuridão, que aguardava
por ele no primeiro plano.
Logo depois, ao receber H. W. de volta, vai abraçá-lo,
mas nunca veremos os dois claramente. Eles serão filmados
de longe, como dois, mais uma vez, borrões. Quando se
aproxima, a câmera servirá para mostrar que H. W., ele
também, dará um tapa na face de Daniel. Anos depois,
quando se encontrarem para o ajuste de contas na mansão,
será justamente em meio a trevas que o farão. As mais
intensas do filme, aliás, as que nem permitirão que
seja visto quem é o “mais próximo colaborador”, aquele
para quem o empresário “não tem nenhum segredo”. E o
filho (agora Russell Harvard) acabará justamente por
agradecer (aos céus) por não ter nada do pai nele, por
eles não terem o mesmo... sangue.
Esse rompimento (final) entre os dois precederá ao outro
ajuste de contas, o final, este entre Daniel Plainview
e Eli Sunday. Encerrado um ciclo de sangue, um outro
deve ser encerrado. A seqüência parecerá um tanto deslocada
da mecânica de luminosidade de Elswit/Anderson. Nela,
veremos bem tanto Plainview quanto Eli. Tanto eles quanto
o espaço em que se dá o embate, o salão de boliche um
tanto abandonado, como tudo mais na morada do bilionário.
Sai de cena uma economia dos olhares e entra em cena
uma economia outra, desta vez uma das palavras e das
encenações. Afinal, o cinismo é uma estratégia de atuação,
um performatismo na vida cotidiana. Não por acaso, então,
ali, Daniel (Day-Lewis? Plainview? Fará pouca diferença)
“dirige” Eli em sua cena para desmentir sua sinceridade
como pastor. “Eu sou um falso profeta e Deus é uma superstição”,
ele deve dizer, “como se estivesse pregando”, a fim
de obter dinheiro do antigo oponente. “Olhe para lá,
imagine que há uma congregação ali o ouvindo”, proclama
o “preparador de elenco” Day-Lewis. O incentivo é para
que Eli/Paul Dano interprete como ele, chamando atenção
para a mecânica espetacular da interpretação. “Eu bebo
o seu milk-shake”, diz logo depois Daniel, com voz alterada,
com um tom de escárnio teatralizado, com uma representação
do movimento do canudo imaginário. “Eu sou a terceira
revelação”, proclama, desmontando o sentido da igreja
do outro, mostrando que ele, sim, tem o “espírito”,
ele sim fez o pacto que faz correr o sangue do/sobre
o chão. A desconstrução do filme como agência de interpretação
(dos atores mesmo, não dos símbolos, embora esses também
estejam lá para ser interpretados) se dá ali como que
para completar o ciclo aberto pelo título. There
Will Be Blood: a violência de fato ainda não se
deu. É hora de ela acontecer. Mas isso não pode ser
dar sem se levar ao limite a operação de transfiguração
mefistofélica de Daniel. Não deixa de ser uma traição
cínica da parte dele: nega o direito do outro à fé em
Deus, mas no fundo está no âmago de um pacto com o demônio.
A mecânica luciferiana (de luz) do filme até ganha mais
sentido com essa lógica desnudada. Mas não é um demonismo
de fato, é mais uma demonização: não há nada dentro
de Plainview. É um desalmado. O personagem só tem lado
de fora. Daí ele ser puramente a interpretação de Day-Lewis.
Daí ele ter que ser uma silhueta. Daí ele passar por
um período, digamos, experimental como “ser iluminado”,
daí ele buscar sua fortuna no fundo (da terra, de si).
 Alexandre Werneck
Alexandre Werneck
1. Sabe-se que Paul Dano
originalmente não faria o papel de Eli Sunday. Ele faria
apenas o papel de Paul (sim, assim como Day-Lewis, ele
faria um personagem com seu nome). O ator originalmente
escalado para o papel era Kel O'Neill, que deixou o
projeto – não se sabe se por vontade própria ou de Anderson
– pouco antes do começo das filmagens das cenas de Eli.
Sabe-se, então, que Dano teve pouco tempo para trabalhar
com o personagem e que o fato de os dois irmãos serem
gêmeos se deve exclusivamente à saída do ator.
|





