|
A
Topografia dos Sentimentos
A crença cinematográfica de William Friedkin
se apresenta a partir de duas proposições bem simples:
1) A imagem cinematográfica encontra seu valor na superfície.
2) Se existe alguma profundidade dentro dessa imagem
chapada, ela se dá pela forma como os sentimentos que
desperta se disseminam por contágio.
É um cinema cuja lógica tem de ser física, absurdamente
literal e materialista. Se há algo que sempre nos desconcerta
em filmes como Operação França, Comboio do
Medo, Parceiros
da Noite ou Viver e Morrer em Los
Angeles é o que estes filmes têm de um cinema de
instalação que nos coloca num ambiente e a partir daí
opera de maneira a explorá-lo diante do olhar do espectador
num processo de abertura, em que tudo que estes universos
despertam acaba sendo aos poucos dissecado pela câmera.
Friedkin é uma espécie de
cineasta geólogo cujos filmes se constroem no encontro
de três operações topográficas que correm ao meio tempo:
a da imagem plana, a do ambiente da ação, a dos diversos
sentimentos e recalques que existem perdidos no ar.
Os dois planos iniciais de Bug apresentam com incrível concisão este projeto estético.

Primeiro uma imagem deslocada, retirada já do
terceiro ato, dentro do gosto de Friedkin
de lançar diante do espectador algo inexplicável e desorientador.
Está ali estabelecido tanto um gancho dramático
– uma garantia ao espectador incauto de que a calmaria
inicial logo será interrompida – quanto uma estratégia
estética, o gosto do cineasta por um certo tipo de imagem,
ao mesmo tempo chapada e ampla.



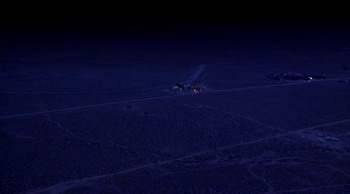


O movimento de câmera que se segue nos entrega toda
a mola propulsora que guia o projeto estético do filme.
Enquanto a imagem se aproxima do motel em que quase
toda ação se passa, recebemos no meio do que à primeira
vista é só um exercício de estilo toda uma declaração
de princípios. Pode não estar claro naquele instante,
mas quando Bug acaba percebemos tudo que já estava apresentado ali: que
a imagem cinematográfica existe a partir de um desejo
de mergulhar nas superfícies, que tudo que é posto em
cena tem um valor em si mesmo, que este é um filme orgulhosamente
teatral na sua construção, que o que está em jogo aqui
são os sentimentos que transpiram no ar.
Bug se diferencia de outros filmes de Friedkin, pelo que tem de entrega, pela maneira como filtra
seu formalismo através de um trabalho mais direto com
personagens, um filme menos centrado em atacar diretamente
o espectador. O filme jamais funcionaria sem o excepcional
trabalho da dupla de atores centrais (Ashley
Judd e Michael Shannon)
que se equilibram dentro do texto pantanoso. O princípio
narrativo de Bug é a idéia de que a paranóia não passa
de um desejo de ficção, logo a cada a ato o filme adentra
mais no artifício e no comportamento patológico. Em
suma, quanto mais Bug avança, mais adentra o absurdo;
o triunfo de Judd e Shannon
é que não há um instante em que o filme não pareça exato
no que descreve. Bug é um filme de atores, mas ao contrário
do que a expressão costuma sugerir, estamos bem distante
de algum tipo de exercício narcisista voltado mais para
afirmar a suposta excelência dos intérpretes.
Essa intensidade encontra seu complemento nas imagens
de Friedkin. Nunca um cineasta
discreto, Friedkin gosta de
descrever sua estética como uma indução de imagem documental.
Isso fala muito sobre o peso que corpos e objetos de
cena e locações têm a cada imagem, mas esconde o artifício
que acompanha. Porque o cineasta é antes
de mais nada sempre um brilhante técnico a brincar
com seus elementos (pensemos aqui no sofisticado trabalho
de banda sonora, por exemplo) e Bug já a partir dos seus primeiros planos
se revela um tour de force para seu cineasta tanto quanto
para seus dois atores. Mas não se trata de um tecnicismo
barato meramente exibicionista; pelo contrário: a exuberância
técnica de Friedkin acentua
o que Bug
tem de intenso filme de entrega. Seu artifício é
parte essencial do projeto sentimental-materialista
sobre o qual o filme é erguido.
Bug
é também um filme político, mas não no sentido que vem
se afirmando. No cerne do processo paranóia de Bug
está a crença do personagem
de Shannon – um ex-militar
– de que ele não passa de uma cobaia para experimentos
do governo. Alguns críticos foram
rápidos em ligar esta idéia e a atmosfera geral do filme
como sinais de que estamos mais uma vez num filme crítico
ao atual governo americano. Claro que Bug reflete a atmosfera em que foi
feito, mas é bem cedo para concluir que William Friedkin
passou por alguma conversão, ele permanece um dos mais
claros e articulados cineastas da extrema direita americana.
Pensar o contrário é ignorar a profunda ambivalência
para com a paranóia de Shannon,
tanto a maneira como ele a leva sério como uma demonstração
de um sentimento de desespero, mas ao mesmo tempo quanto
a acha risível como expressão
política (pode-se tranqüilamente ver Bug como uma sátira aos thrillers paranóicos que pipocaram à época do auge crítico-comercial
do cineasta, apesar de que tal leitura limita-se, e
muito, às belezas do filme).
Onde se encontra o político, então? Como sempre em Friedkin,
no mero fato do filme existir. De ser produzido como
foi, fazer um filme a toque de caixa num quarto de motel
vagabundo no meio do nada é para seu cineasta um ato
político-libertador. Após uma década de parceria com
a Paramount, onde ao mesmo tempo ele podia desenvolver
com alguma calma seus projetos a despeito do retorno
financeiro quase nulo (sua esposa era a chefe do estúdio)
e se envolvia invariavelmente em longas dores de cabeça
na hora da montagem, com resultados que variaram do
cineasta perto do seu melhor (Caçado) e do seu pior (Jade), Bug é
um retorno às origens de Friedkin,
aos seus dois primeiros filmes de fato, The Birthday Party e Os Rapazes da Banda, ambos adaptações teatrais
de estética e forma de produção bastante similares às
do novo filme. Para cineastas da geração de Friedkin
que ainda desejam afirmar seu projeto de cinema, um
filme como Bug parece o único caminho e este
novo trabalho do diretor tem um desejo confrontador
de afirmar isso, rivalizado apenas pelos trabalhos recentes
de Brian De Palma.
Mas Bug
se afirma mesmo dentro do seu desejo materialista de
dar massa à dor e paixão que transcorre naquele espaço.
Uma história de amor dirigida por um cineasta brutal
e físico que por isso mesmo se torna o encenador perfeito
de tal material. O peso de Bug
se multiplica em parte pela nudez emocional que ele
exibe, mas muito porque o teor literal, quase exploit-experimental
e pseudo documental, carrega a imagem de Friedkin
como poucas vezes mesmo dentro da sua rica obra. Bug é um filme em que a dor reside
não só na carne, mas no ar, transpirando em cada grão
da película. O projeto de exploração espacial do cineasta
é redimensionado na tradução mais concreta do conceito
de contágio que animara diversos dos seus filmes anteriores.
Um filme assustador, sem dúvida, mas não pelas razões
esperadas.
 Filipe Furtado
Filipe Furtado
|





