|
Como nota Jean-Sébastien
Chauvin no texto publicado
em nossa presente edição, há nos filmes atuais de Alain
Resnais a insistência de uma antiga e “profunda inquietude
sobre a desaparição do sentido dos signos”. Amores
Parisienses e as roupas empilhadas que remetem a
Noite e Neblina. Medos Privados
em Lugares Públicos e a neve incessante que remete
às cinzas caindo sobre os corpos no início de Hiroshima
Meu Amor. Mas o que fazem as cinzas da tragédia
nuclear no último filme de Resnais? É como se elas preservassem, no fundo do plano, o
fantasma do século XX. O diretor filma o mundo dos mortos
– ou faz os mortos retornarem ao mundo dos vivos –,
portanto é “normal” que haja flocos do passado caindo
constantemente sobre o filme. Assombrando-o.

Primeiro plano de Hiroshima
Mon Amour, as cinzas sobre os corpos
 Ainda
é possível ouvir os gritos (Noite e
Neblina, 1955) Ainda
é possível ouvir os gritos (Noite e
Neblina, 1955)
Voltemos à época de Noite
e Neblina: o cinema, ao não filmar os campos de
concentração e extermínio no momento
mesmo em que eram construídos, teria cometido um erro
imperdoável? Essa omissão teria criado uma lacuna impossível
de se compensar, um fosso aberto sobre o real? Godard,
por exemplo, acha que sim, sempre tratou esse atraso
como uma falta grave, inexpiável, pois era missão do
cinema (quase científica, já que ligada ao seu estatuto
de ferramenta de conhecimento e registro concreto do
mundo) estar lá, filmar. Arte do presente, do corpo-a-corpo
com a experiência de estar-no-mundo, o cinema se viu então diante de um vazio.
Serge Daney nunca hesitou em identificar
às imagens dos campos – ou melhor, ao ponto cego que
essas imagens ocuparam – o marco zero da construção
de um olhar “justo”, de um olhar que instaurava, no
seu ato de representação e, sobretudo, de percepção,
uma nova modalidade de distância. O intervalo constitutivo
da representação era agora uma instância moral. Em Noite
e Neblina, Resnais inaugura
essa justeza do olhar, esse reconhecimento de que o
cinema chegou depois, e com isso planta uma das pedras
fundadoras do cinema moderno francês.
Se ele chegou atrasado aos campos, passeou por entre
os mortos. A relação com a realidade se torna mórbida
e violenta, mas este é o preço do não esquecimento,
da luta contra a desaparição do significado de uma paisagem
histórica. Resnais não se permite metáforas, só pode abordar o assunto
literalmente. Face à iminência da desaparição, face
ao mato que cresce e quer encobrir (por “força da natureza”,
alguns diriam tendenciosamente) o palco da ignomínia,
ele interroga que poder terá a imagem cinematográfica
de não aquiescer ao esquecimento, de ler a narrativa
histórica no silêncio dos campos abandonados, de ouvir
ainda os gritos. As imagens de Noite e Neblina estabelecem relações complexas com a narração de Jean
Cayrol (escritor, sobrevivente
do Holocausto, duplamente implicado no filme), dita
em off num misto de
sobriedade científica e pujança estética. O visível
escondido sob o invisível é revelado pela mise en scène que advém das palavras, “o momento de diálogo entre
a voz que as faz ressoar e o silêncio das imagens que
mostram a ausência daquilo que as palavras dizem” (ver
Jacques Rancière, “L’inoubliable”,
em Arrêt sur histoire).
Na visita ao local onde ficava um campo de extermínio,
há a densidade dos eventos ali ocorridos. E ao mesmo
tempo não há nada. Os travellings de Resnais fazem uma varredura de superfície
do campo desativado, insistem para que não lhe desapareçam
os traços. Pois como nos diria a personagem de Emmanuelle
Riva em Hiroshima
Meu Amor, o tempo ameaça não preservar nada mais
além do nome. Ou talvez nem o nome.

Imagem de arquivo de
uma tomada aérea sobre um campo de concentração
(Noite e Neblina). Ninguém
viu os campos...

...
mas
o
filme nos vê.
A principal característica da exterminação nazista dos
judeus na Segunda Guerra foi sua invisibilidade, sua
obscura e historicamente mal explicada invisibilidade.
As investidas aéreas dos aliados não "repararam"
nos campos, que teriam de ser descobertos a pé. A tarefa
de Resnais em Noite e Neblina é inverter o processo da
desaparição dos signos, nem que para isso seja preciso
lutar contra o inelutável (o tempo, a amnésia).
Impedindo que o extermínio se resuma ao irrepresentável
– e hoje isso serve para combater aquela idéia falsa
de que o cinema moderno nasceria de uma crise de representabilidade
–, o filme salva as imagens de arquivo da sua eventual
banalidade, recontextualizando-as,
montando-as ao lado de imagens “atuais”, coloridas,
em movimento. É um cinema que sabe articular, um cinema
do tempo da montagem, que trabalha a duração do plano.
Resnais se mostra capaz de
um rigor onde até mesmo a historiografia, naquele momento,
cambaleava. Cada imagem de Noite e Neblina dá forma a uma crise do
olhar e da consciência.
Era fácil encontrar motivos para uma fuga do regime
figurativo diante do horror do Holocausto. As próprias
fotografias feitas nos campos ajudavam: pilhas de roupas
e pilhas de corpos se acham no limiar do indiscernível.
Como não encontrar ali um terreno sinistramente fértil
para uma arte abstracionista? “Isso tudo é cabelo de
mulher”, a voz de Jean Cayrol,
no entanto, afirma sobre uma imagem que começa indefinida,
chapada, abstrata, e pouco a pouco se abre até ganhar
contornos mais claros. Não podemos nos enganar, aquilo
tudo é cabelo de mulher, é isso que aquela imagem imprimiu.
É preciso guardar essa evidência, mesmo se o que essa
imagem figurar for sua própria limitação para representar
o que está nela (em última análise, a morte das pessoas
às quais pertencia toda aquela montanha de cabelo).
Trata-se de mostrar o que justamente não tem imagem:
o horror absoluto (o inumano?). E é aí que a palavra
entra. A potência da palavra, a preeminência da palavra,
que se torna audível na cena histórica restituída pela
imagem.
Jacques Rancière (no texto
já citado) retorna à célebre fórmula de Adorno para
invertê-la: “depois de Auschwitz,
para mostrar Auschwitz, somente
a arte é possível, porque ela é sempre o presente de
uma ausência, porque é seu trabalho mesmo dar a ver
um invisível, pela potência regida das palavras e das
imagens, juntas ou disjuntas, porque somente ela está
assim apta a tornar sensível o inumano”. A questão,
portanto, não consiste em banir a representação, mas
em saber de que maneira é possível responder ao mutismo
dos lugares, à indiferença da terra, dos muros, do arame
farpado, do capim. A imoralidade de algumas representações
que viriam depois (o famoso travelling
de Kapò é só um exemplo dentre muitos) constitui
uma prova da mesma natureza, porém de sinal invertido:
essas representações “abjetas” alertariam para a necessidade
de se questionar os modos de percepção no cinema, de
reconstruir o lugar do espectador a partir de um ponto
de vista (justo)
sobre as primeiras imagens da experiência nos campos.

Pilhas de roupas que
terminam por se parecer com pilhas de corpos (Noite
e Neblina)
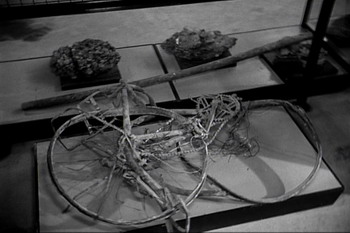
O ferro tornado vulnerável
como a carne, exposto no museu de Hiroshima
Em Hiroshima Meu
Amor (1959), o museu é o lugar para expor as cinzas
da destruição causada pela bomba atômica: os cabelos
das mulheres (novamente), os objetos de metal retorcidos,
deformados pelo calor, “frágeis como carne”, os pedaços
de pele conservados "ainda no frescor de seus sofrimentos",
as fotografias, as reconstituições. As reconstituições,
"na falta de outra coisa". Fora dali, todos
esses objetos se deteriorariam, perderiam a definição
e o significado; no museu eles ganham forma, força,
se preservam, se reverberam, constroem a memória de
Hiroshima. Após Hiroshima, assim como após Auschwitz, portanto, somente a arte é possível. Ao lado de
Noite e Neblina, Hiroshima Meu Amor consolida o momento em que as tragédias do século
e o espectador de cinema se encontram.
Hiroshima
é um filme sobre o desespero tanto da lembrança quanto
do esquecimento. As duas coisas podem enlouquecer, assustam:
não conseguir esquecer e não conseguir lembrar. Essas
são as fases sucessivas do drama da personagem de Riva,
que tenta desesperadamente se definir em relação ao
que ela é em Hiroshima e ao que era em Nevers.
Ficar no meio do caminho é que o perigo: é necessário
abandonar essa meia-luz existencial, escolher entre
permanecer na noite ou sair para o dia (a maior parte
do tempo diegético do filme
é esse parêntese entre a noite e o dia). Ela precisa
se recompor como sujeito, da mesma forma que Hiroshima
precisa se reconstruir após a bomba.
Muriel, ou o tempo de um retorno (1963), como
diz o título, fará um mesmo movimento de preencher a
lacuna aberta pelo passado no presente. O intervalo
ocorreu, mais uma vez. Os amantes se reencontram, mas
seus corpos já falam línguas diferentes. A palavra,
por sua vez, já não tem o poder de articulação de Noite
e Neblina. Preserva "apenas" a força política
e a estranheza poética (o roteiro é também
de Jean Cayrol), quando o jovem que não se livra da
memória da guerra – a batalha indigna dos colonizadores
contra a emancipação de suas colônias – narra os absurdos
crimes de guerra cometidos a Muriel,
a argelina que nunca aparece, pois enquanto ele fala
vemos imagens em super-8 de soldados confraternizando,
vemos lugares visitados pelas tropas francesas, vemos
a paisagem da Argélia. Uma espécie de reconstituição
da realidade a partir de um despedaçamento prévio, de
uma cisão entre o audível e o visível (estes parecem
faixas autônomas em busca de uma fusão impossível devido
ao próprio intervalo entre um e outro, entre o acontecimento
e a imagem do acontecimento enfim projetada). A opacidade
de Muriel atinge níveis muito mais altos que o comum
mesmo em se tratando de Resnais.
O filme cria a sensação de um tempo que não passa, tempo
de um retorno, tempo de uma reflexão: um valor infinitesimal
da narrativa, um hiato na duração do universo.


 Olhares cruzados, olhares
perdidos (Hiroshima Meu Amor)
Olhares cruzados, olhares
perdidos (Hiroshima Meu Amor)
Há em Resnais um forte desejo
de cosmologia, de fazer uma ciência da natureza que
seja também a história do universo contada do ponto
de vista do homem nele inserido – e que enxerga, assim
sendo, apenas uma parte, um fragmento, e por isso não
pode totalizar ou concluir absolutamente nada. É uma
dupla manifestação: de compreender a existência em termos
de desejo, sensação, imprecisão e abertura e de, ao
mesmo tempo, definir o campo problemático no interior
do qual a experiência humana poderia ser observada sistematicamente,
abstraída do fluxo da vida material para ser entregue
a uma hipótese científica (lembrar de Meu
Tio da América). Nos filmes de Resnais
do período moderno, vemos um mundo que se forma por
acúmulo de contradições, por explosões (as cenas de
horror em Noite e Neblina e Hiroshima, a montagem cubista na primeira seqüência de Muriel), por movimentos
bruscos da História. As abstrações se somam a fim de
atingir uma realidade concreta. Surge uma diegese
marcada pela dialética entre o passado e o presente,
o concreto e o abstrato, o casal e a sociedade (Muriel, Hiroshima e também Marienbad). Para não deixar que
o passado se esvaia do presente, o impulso fundamental
de Resnais está expresso no
título de um de seus curtas-metragens de início de carreira:
Toda a memória do mundo. O tempo da memória
é o tempo menos da fixação do que da circulação. No
que depender de Resnais, as cinzas de Hiroshima vão sempre circular entre
nós.
 Luiz Carlos Oliveira Jr.
Luiz Carlos Oliveira Jr.
|





